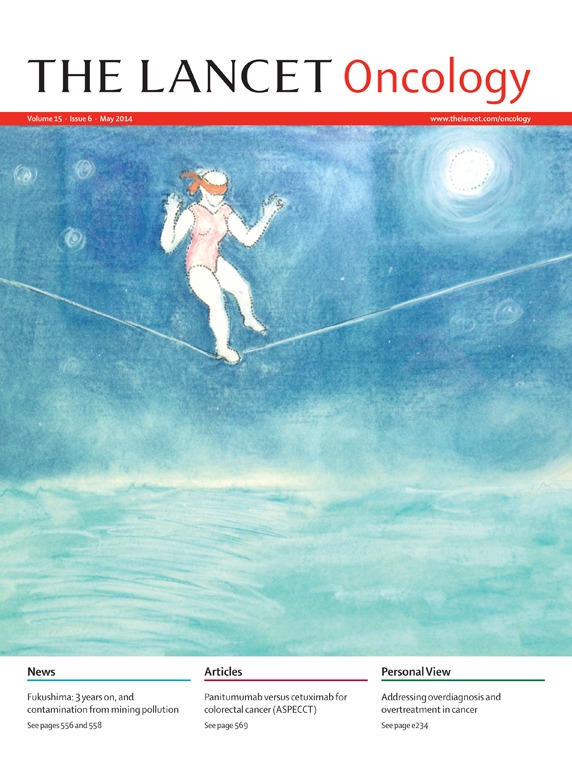
Por Ana Lucia Coradazzi:
Há alguns anos, numa conversa com um colega urologista, ouvi seu relato indignado por ter recebido um encaminhamento de um paciente de 92 anos no qual tinha sido detectado um câncer de próstata durante seus exames “preventivos”. A história tinha começado durante uma visita rotineira ao cardiologista, quando tinha sido solicitado um exame de PSA, que veio um pouco elevado e o levou a procurar um urologista em sua cidade. Foram então realizadas as 12 biopsias prostáticas preconizadas, que revelaram um adenocarcinoma Gleason 6 (um tumor indolente e com baixíssimo potencial de disseminação). Meu colega o recebeu com a indicação explícita (corroborada pelos dois filhos do paciente) de uma prostatectomia ou radioterapia para a cura do câncer. Na época, o maior motivo de espanto, tanto meu quanto dele, foi a idade do paciente, na qual exames preventivos de câncer são altamente questionáveis. Em segundo lugar, nos impressionou a veemência com a qual tanto o colega que o encaminhara quanto os familiares do paciente falavam sobre a necessidade de tratamento, o mais rapidamente possível. Meu colega precisou de muito tato, paciência e tempo para convencê-los de que esse tipo de tumor traria muito menos consequências para o paciente do que os próprios tratamentos sugeridos – se é que realmente os convenceu (não nos surpreenderia se eles tivessem procurado e encontrado algum outro profissional que concordasse em operá-lo).
O fato é que, de lá para cá, pouca coisa mudou no que diz respeito à reação das pessoas (sejam elas pacientes, familiares ou profissionais da saúde) quando o que está em jogo é um diagnóstico de câncer. O próprio medo que todos temos do sofrimento atrelado à doença foi responsável por grande parte da evolução da Oncologia. Buscamos obstinadamente formas cada vez mais eficazes para diagnosticar neoplasias e tratá-las, e acalentamos dentro de nós o sonho de um dia podermos evitar que o câncer aconteça. Enquanto não conseguimos evitar sua existência, focamos nossos esforços para pelo menos diagnosticá-lo o mais cedo possível, já que nas fases iniciais (ou até pré-malignas) as chances de exterminá-lo são em geral muito maiores. Será?
O grande desafio atual decorre do fato de que nosso medo nos levou a incluir sob o assustador título de “câncer” uma vasta gama de neoplasias, cujos comportamentos variam de lesões que crescem de forma extremamente lenta (ou até regridem espontaneamente) até tumores extremamente agressivos, que rapidamente assumem o controle do corpo do paciente, independentemente do que façamos para tratá-lo. Todos são “câncer” e, como tal, geram o mesmo pavor. Nada mais natural, portanto, do que procurar obstinadamente por todos eles e tratá-los tão logo sejam encontrados. Mas também nada menos passional. Hoje temos informações suficientes para saber que cada câncer tem um comportamento peculiar, que nem todos necessitam de tratamento (e portanto não precisariam ser nem mesmo diagnosticados) e que a maioria dos exames de rastreamento, que supostamente detectariam o câncer em suas fases precoces e aumentariam as chances de cura, servem na verdade para aumentar o diagnóstico de lesões de baixo potencial de crescimento. Mas então, por que é que continuamos obstinados em nossa cruzada para encontrar e eliminar qualquer lesão minimamente suspeita?
Num artigo incrivelmente sensato, publicado em 2014, no prestigioso Jornal Lancet Oncology, a Dra. Laura Esserman descreve com lucidez impressionante o quanto estamos desrespeitando o princípio bioético básico da não maleficência quando nos permitimos ser dominados por nossos impulsos naturais e deixamos nossas mãos livres para solicitar exames de sangue, biopsias, tomografias e toda a parafernália de que dispomos para rastrear qualquer tipo de câncer. Mais ainda: quando nos sentimos no dever de tratar qualquer neoplasia que contenha a palavra câncer em seu resultado anátomo-patológico. Estamos lesando um paciente ao submetê-lo ao estresse de saber que tem “câncer” (mesmo um tipo que jamais vai matá-lo ou mesmo provocar qualquer sintoma). Nós o lesamos com procedimentos diagnósticos invasivos, ou com tratamentos desproporcionais e suas sequelas. Também lesamos seu bolso, desperdiçando recursos que poderiam ser utilizados de forma muito mais proveitosa para sua vida.
Não faço aqui, de forma alguma, uma apologia ao abandono dos exames de rastreamento. Ninguém duvida dos benefícios que os programas de prevenção do câncer de colo uterino, por exemplo, proporcionam a milhares de mulheres que, ao terem suas lesões pré-malignas extirpadas, são poupadas de passar pelo diagnóstico de câncer anos depois. Ou dos programas de prevenção de câncer colorretal, com a realização periódica de colonoscopias e retirada de lesões com potencial de se tornarem malignas. Estou falando daqueles casos – que não são poucos – nos quais as lesões diagnosticadas no rastreamento não causarão qualquer mal ao paciente no contexto em que se encontra. Elas não causarão sintomas, não disseminarão e tampouco causarão sua morte. Ou seja: não deveriam estar sequer incluídas no pacote “câncer”. É considerando isso que a Dra. Laura Esserman propõe, em seu artigo, a revisão da nomenclatura que damos a essas lesões para “lesão indolente de origem epitelial” (em inglês, IDLE) como uma forma de iniciarmos nossa mudança comportamental. Ela acredita que esse tipo de mudança poderia contribuir significativamente para reduzir a ânsia de médicos e pacientes em diagnosticar e tratar lesões que não têm significado para a saúde dos pacientes. É o caso, por exemplo, do paciente do meu colega e seu câncer de próstata Gleason 6. Ou dos inúmeros nódulos tireoideanos diagnosticados como carcinomas papilíferos de baixo grau e que poderiam ser tratados de forma menos agressiva (inclusive com observação apenas). É o caso de carcinomas de mama com assinatura genética extremamente indolente que talvez pudessem ser tratados apenas com a retirada da lesão, evitando a radioterapia. Inúmeros exames, cirurgias, e tantos outros procedimentos poderiam ser evitados se esses casos fossem considerados “lesões indolentes de origem epitelial” em vez de “câncer”. Isso certamente nos faria pensar e agir com mais calma, mais devagar, mais ao estilo Slow Medicine.
Mesmo no que diz respeito aos exames de rastreamento, a Dra. Laura é bastante enfática quando diz que, em muitos casos, poderíamos (e deveríamos) aumentar o intervalo entre tais exames, ou restringir sua indicação a populações específicas de alto risco. De maneira geral, os programas de rastreamento aumentam o diagnóstico de lesões de baixo potencial maligno, mas falham em exercer impacto significativo na mortalidade de diversos tipos de câncer. Isso acontece porque, de maneira geral, o câncer que mata é aquele que aparece entre os exames, cresce rapidamente e faz com que o paciente procure o médico já em decorrência dos sintomas. Precisamos ser mais inteligentes sobre como e quando devemos buscar ativamente essas lesões, sobre como realmente podemos causar impacto em sua evolução, em vez de desperdiçarmos tempo, recursos e saúde diagnosticando e tratando lesões que não precisam da nossa atenção.
Temos um longo caminho pela frente, que inclui uma série de estratégias concatenadas (o reconhecimento de que o “overdiagnosis” e o “overtreatment” são frequentes e problemáticos, a mudança da terminologia de lesões indolentes, a criação de registros observacionais para essas lesões, o desenvolvimento de estratégias que minimizem as chances de “overdiagnosis” e maximizem a prevenção e tratamento adequado do câncer). Mas, sem dúvida nenhuma, o passo mais desafiador será o de lidar com nossos próprios preconceitos e velhos hábitos, reconhecendo que estamos exagerando e nos dispondo a repensar nossos caminhos na Oncologia. Precisamos mudar nossa forma de pensar, compreender as situações em que menos pode ser mais e, diante delas, adotar nossa melhor versão “slow”.
____________
Ana Lucia Coradazzi:
Nascida na cidade de São Paulo, mora em Jaú, no interior, há muitos anos, com o marido e suas duas filhas. Oncologista clínica com titulação pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, é especialista em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium, na Argentina. Atualmente atua como oncologista no consultório e na Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. Também integra a equipe de Cuidados Avançados de Suporte e Medicina Integrativa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em SP. Apaixonada por livros (e escritora nas horas vagas), procura reservar um tempo para correr, buscando manter o corpo saudável e a mente tranquila.
Excelente, muito sensato